“Memórias, Sonhos, Reflexões”: uma viagem interior pela autobiografia de Carl Gustav Jung
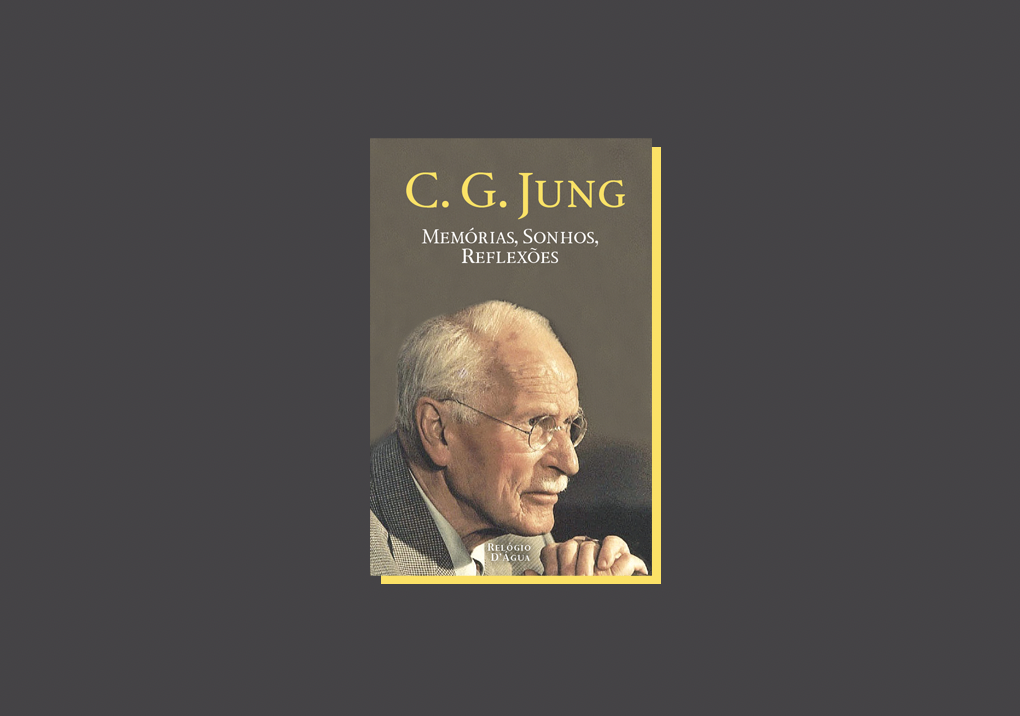
“As circunstâncias exteriores não podem substituir as interiores. Por isso, a minha vida é pobre em acontecimentos exteriores. Não posso contar muito sobre estes; ia parecer vazio ou inócuo. Só consigo compreender-me a partir dos acontecimentos interiores. São eles que constituem o que houve de especial na minha vida e é deles que trata a minha “autobiografia””.
É deste modo singular que Carl Gustav Jung termina o prólogo de Memórias, Sonhos, Reflexões, obra que nasceu do intento de se criar uma biografia do pai da Psicologia Analítica. Publicada pela primeira vez, em 1962, com o título original, em alemão, Erinnerungen, Träume, Gedanken, só agora é que a edição portuguesa, lançada em Julho deste ano [2019], chega às livrarias nacionais pelo crivo da editora Relógio D’água. O mote perfeito para recordarmos o livro co-organizado e orientado por Aniela Jaffé e pelo qual Jung sentia relutância em levar avante. Afinal, como pode alguém discorrer sobre a sua própria biografia? O nosso suíço, por mais difícil que esta pergunta seja, conseguiu-o e acabou por responder positivamente ao desafio. Eis que chega, igualmente, a nossa vez de acompanharmos uma das mentes mais interessantes do início do século XX pelas suas memórias, sonhos e reflexões enquanto analisamos, em concreto, a edição portuguesa traduzida por António Sousa Ribeiro.
Foi em 1956, enquanto decorria o Congresso Eranos, em Ascona, no Cantão suíço Tessino, que o editor Kurt Wolff lançou a ideia de se publicar uma biografia de Jung com a chancela da nova iorquina Pantheon. Para levar a efeito o trabalho, o nome de Aniela Jaffé foi, então, relembrado por Jolande Jacobi, psicóloga suíça que trabalhou em parceria com o autor que trouxe para a psiquiatria o conceito persona [não se trata apenas de um filme de Bergman]. Convencer Jung não foi fácil até porque, como o próprio relembra, “a dificuldade na organização de uma autobiografia reside em não se ter uma medida, um fundamento objectivo, a partir do qual se possa emitir juízos. Não há verdadeiras possibilidades de comparação. Eu sei que, em muitos aspectos, não sou como outros, mas não sei como sou verdadeiramente. O ser humano não pode comparar-se com nada: não é um macaco, uma vaca, uma árvore. Eu sou um ser humano. Mas o que é isso?” A questão principal que aqui se coloca, no fundo, é a seguinte: como é que alguém se pode experimentar a si próprio como uma questão científica? Como é que podemos fazer de nós próprios um problema metodológico? Relembrando a afirmação do próprio, há a falta de uma medida que dificulta isso mesmo, a única coisa que resta, então. é “fazer afirmações directas” (…) “contar histórias”. A pergunta real para a nossa vida é a que se segue: “é o meu conto maravilhoso?” Se essa história for ao encontro da nossa verdade, de forma mais incisiva, então, neste plano, não há razões para temermos as palavras conto, história ou mito. Até porque servem melhor a subjectividade humana. Agora já compreendemos o porquê desta autobiografia (em parceria com Aniela Jaffé) se intitular Memórias, Sonhos, Reflexões. Mais do que uma mera descrição cronológica de eventos, Jung leva-nos numa viagem pelos seus pensamentos, o que acaba por proporcionar um veículo mais do que perfeito para entendermos toda a génese das suas referências (mais à frente veremos como será importante para uma boa análise de todo o seu trabalho) e, não menos importante, o relato pelo próprio de sonhos e imagens da sua mente que, por si só, também contam a história paralela de como o seu entendimento foi moldado e crescendo. Não estamos a falar, por isso mesmo, de um livro cientificamente hermético. Aliás, esse não era o objectivo. Para compreender melhor e a fundo todos os preceitos da psicologia analítica, há que ler a restante obra de Jung. No entanto, por Memórias, Sonhos, Reflexões partir da infância, passar pelos anos de escola, faculdade, início da sua carreira e abordar, de forma clara, o seu confronto com Freud e relatar a sua experiência com os casos clínicos mais marcantes, esta obra é de suma importância porque nos dá, por assim dizer, os bastidores, a arquitectura, a chave mestra de como tudo se desenvolveu. Nós estamos sempre em confronto com o homem, o seu pensamento e percepções. Este é um discurso do seu interior, a seu ver a forma mais correcta de se ser honesto e, por isso mesmo, é como se nos oferecesse as peças, a base de uma casa em constante construção. Se lermos atentamente, acaba por, também, constituir uma via para se rebaterem algumas confusões às quais a própria psicologia analítica sempre esteve propensa.
Após Jung ter concordado com o projecto, concedeu a Aniela Jaffé uma tarde por semana para poderem trabalhar em conjunto. Foi, então, na primavera de 1957 que o editor Kurt Wolff sugeriu que, ao invés de uma biografia, se escrevesse uma autobiografia, ou seja, dever-se-ia ler, antes (passo a contradição) a própria voz de Jung na primeira pessoa. No final desse mesmo ano, e como consequência do decorrer positivo do trabalho desenvolvido, começam a surgir a Jung imagens há muito submersas da sua infância. É, então, após intuir uma relação entre essas imagens e as suas obras da velhice que revela à sua parceira de trabalho a intenção de ser o próprio a escrever o capítulo sobre os seus primeiros anos de vida. Estava, dessa forma, instituído o acordo para se levar avante a ideia de uma autobiografia ao invés de uma biografia, e assim foi. Da própria pena do helvético saíram, então, os primeiros capítulos dedicados à infância e aos anos da escola e faculdade que terminaram com a conclusão do curso de medicina, em 1900. Acrescentou, também, os capítulos “Sobre a vida depois da morte” e o capítulo “Quénia e Uganda”. Para completar o livro fez-se uso, igualmente, de manuscritos inéditos como aconteceu, por exemplo, com o capítulo sobre os índios Pueblo. Para complementar os segmentos “Sigmund Freud” e “A confrontação com o inconsciente”, Aniela Jaffé foi resgatar partes de uma conferência do psiquiatra suíço, de 1925 e, para o capítulo “Actividade psiquiátrica”, foram de proveito as conversas de Jung com os jovens médicos internos do hospital de Burgholzli, Zurique, em 1956, que tiveram lugar na sua própria casa.
É muito interessante reparar como Jung descreve como começou a duvidar do cristianismo vigente e apregoado pelo pai (pastor) e restantes parentes (também pastores). As suas dúvidas tiveram início na infância e, de forma curiosa, descreve esses momentos como verdadeiras “experiências” (palavra entre aspas porque vai ser importante) fundamentais para toda a sua vida. Em primeiro lugar, temos esta singela oração que a sua mãe lhe ensinou para dizer todas as noites, “Abre as tuas asas/ Jesus minha alegria/Leva o teu bolinho/ Se Satã o quer papar/ manda os anjos cantar:/ Não façam mal ao menino.” É algo pueril mas, mesmo assim, temos aqui dois grandes confrontos, Jesus e Satã, o bem e o mal, e é assim que Jung a justifica, “o que era muito mais significativo e pretexto para muitas reflexões era, porém, o facto de as criancinhas serem comparadas com “bolinhos”, que, pelos vistos , o “Senhor Jesus” só tomava com relutância, como um medicamento amargo. Isto era difícil de entender para mim. Mas compreendia com toda a facilidade que Satã gostava dos bolinhos e, portanto, tinha de ser impedido de os papar. Apesar, portanto, de o “Senhor Jesus” não gostar deles, come-os, para Satã não ficar com eles. Até este ponto, a minha argumentação era “confortável”. Mas, depois, a oração dizia também que o “Senhor Jesus” também levava para si” outras pessoas, o que era sinónimo de as meter num buraco na terra.” Afinal, o cristianismo bondoso tal como lhe era apregoado era, igualmente, sinónimo de morte, de algo ligado à queda que dera numa visita a uma igreja católica com a sua mãe e resultou em sangue do jesuíta que vira em pequeno, vestido de negro na rua e, por isso mesmo, o assustou. Os sonhos e pensamentos também se transformaram numa experiência que o fizeram antever a bondade e a maldade unidas e a desconfiar da ideia etérea de Jesus Cristo. O problema de Jung era somente este: como é que uma criança poderia, à luz do cristianismo, sonhar com um enorme falo sobre um trono ou, ainda mais caricato, com um Deus que defecava sobre a sua própria igreja lá do alto? Sobre o ponto de vista religioso, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e se, principalmente, Jesus é só bondade, como é que se pode enquadrar, não só a ideia de morte, mas a ideia desse mesmo Deus conspurcar a sua própria igreja? Se o Cristianismo é só bondade, como é que se justifica a bondade e a maldade que pode crescer em todos nós ao mesmo tempo? E o que haverá, afinal, atrás da maldade? Estas questões assombravam-no. É difícil conceber, à luz da moralidade do cristianismo tradicional, sonhos involuntários pagãos e primitivos como o do falo ou, então, completamente escalotógicos de Deus contra a própria igreja.
A todos estes acontecimentos, reflexões ou sonhos Jung encara-os como as tais experiências. Experiências essas que o põem em contacto com o não convencional e que levam a uma cisão com a forma como a família encarava a teologia, sem pensar no outro lado, de modo dogmático, sem compreender que o bom Jesus podia ser o da morte, ou que Deus poderia funcionar de forma livre sem ter em conta os nossos próprios preceitos do que é correcto e errado. De que o próprio Deus, além de cristão, poderia ser primitivo e pagão, como o do falo ou o da escatologia. Se essa foi a própria experiência de Jung e tal não se enquadrava ou não se poderia dizer à luz da teologia tradicional, então estaria a faltar algo a essa mesma teologia, ou existiam coisas que esse mesmo cristianismo ignorava e, por isso mesmo, passava a ser incompleto. Daí esta afirmação: “Para mim, a religião teológica não fazia nenhum sentido; é que ela não correspondia a essa ideia de Deus. Ela exigia que se acreditasse sem esperança de conhecimento”. Foi essa mesma incompletude e a necessidade de compreender o que faltava ser compreendido, o humano tal como é, que o levou a encantar-se por Fausto, de Goethe, por exemplo. Aliás, existe a ideia, não comprovada, de que Goethe seria ascendente directo de Jung. O psiquiatra estudou, igualmente, Kant e Nietzsche, que, em especial lhe provocou grande impressão. Curioso que, sobre Zarastrusta, diz o seguinte: “foi, como o Fausto de Goethe, uma experiência fortíssima. Zaratrusta era o Fausto de Nietzsche e o nº 2 era o meu Zaratrusta, se bem que com a distância adequada que vai do montinho de toupeira ao Monte Branco; e Zaratrusta era – tinha a certeza disso – mórbido. O nº 2 também era doentio? Esta possibilidade pregou-me um susto que, durante muito tempo, não quis reconhecer, mas, apesar disso, me manteve em suspenso e aparecia constantemente em alturas impróprias, forçando-me a reflectir sobre mim próprio. Nietzsche descobrira o seu nº 2 apenas tardiamente, depois da metade da vida, enquanto eu já conhecia o nº 2 desde os primeiros anos de juventude. Nietzsche falou ingénua e imprevidentemente deste arrheton, do que não pode nomear-se como se tudo estivesse em ordem.” Embora obras maravilhosas e influentes que lhe deram um aprofundamento e respostas para o que o procurava para contextualizar a experiência da sua mente, Jung considerava Fausto ingénuo e, consequentemente, Nietzsche demasiado tardio na sua descoberta do seu nº2, ou seja, na pluralidade do ser que Jung descobriu desde a sua infância. Em toda a obra, Jung refere-se à sua personalidade como o nº1 e nº2, o nº1 como sendo a sua personalidade exterior, o nº2 como sendo a sua personalidade anterior e mais profunda. O nº1 que queria seguir ciências naturais e o número 2 que se interessava por filosofia, artes, teologia e ciências humanas.
Mas, retomando a questão da palavra experiência, a verdade é que além da fenomenologia, Jung não deixava de ter uma base ou uma percepção empírica, e daí também se torna perceptível a inversão do cartesianismo. Isso está vincado e é claro nos primeiros capítulos de Memórias, Sonhos e Percepções, quando o próprio o diz, “a desilusão que eu sentia com isso levou-me, pouco a pouco, a uma espécie de desinteresse resignado, e a minha convicção de que, quanto a estas questões, só a experiência poderia decidir reforçou-se cada vez mais.” Essa base pode ser, igualmente, por mais que espante, transportada para a ideia do inconsciente colectivo que, em parte, também pode estar associada a Kant. Claro que quando se foca o empirismo de Jung, não estamos a falar de um empirismo semelhante ao dos anglo-saxões, como Locke ou Hume, mas também não podemos esquecer que o racionalismo de Kant diferia do racionalismo de Platão de onde, sobejamente, grande parte de nós conhece a palavra arquétipo. As categorias de Kant apenas permitem que olhemos para o mundo de uma determinada forma, mas essas mesmas categorias seriam impossíveis de determinar se não as trouxéssemos para a experiência concreta do mundo. Trata-se, apenas, de um quadro categórico que nos permite organizar, em hipótese, a concepção do que nos rodeia. O mesmo acontece com a ideia de arquétipo. Não se trata de uma herança fechada, estrita e delimitada de ideias e imagens, até porque o arquétipo é algo que está, sempre, em actualização. Por essa mesma razão é que o próprio defende: “É muito comum o mal-entendido de considerar o arquétipo como algo que possui conteúdo determinado; em outros termos, faz-se dele uma espécie de “representação” inconsciente, se assim se pode dizer.
É necessário sublinhar o fato de que os arquétipos não têm conteúdo determinado; eles só são determinados em sua forma e assim mesmo em grau limitado. Uma imagem primordial só tem um conteúdo determinado a partir do momento em que se torna consciente e é, portanto, preenchida pelo material da experiência consciente. Poder-se-ia talvez comparar sua forma ao sistema axial de um cristal que prefigura, de algum modo, a estrutura cristalina na água-mãe, se bem que não tenha por si mesmo qualquer existência material. Esta só se verifica quando os íons e moléculas se agrupam de uma determinada maneira. O arquétipo em si mesmo é vazio; é um elemento puramente formal, apenas uma facultas praeformandi (possibilidade de preformação), forma de representação dada a priori. As representações não são herdadas, apenas suas formas o são. Assim consideradas, correspondem exatamente aos instintos que, por seu lado, também só são determinados em sua forma.” O que aqui está descrito é que o arquétipo, a sua ideia e imagem, só se torna definida e verdadeiramente preenchida tendo em conta a experiência do indivíduo, daí estar sempre em actualização.
Como já expliquei, este livro pode ser uma excelente forma de conhecermos a base de Jung ou, então, de perceber como as várias peças do puzzle se encaixam. O que o psiquiatra suíço nos oferece, mesmo sem a pretensão de se transformar a si próprio num analisando ou num problema científico, é, acima de tudo, uma autobiografia despudorada e honesta, sem a intenção de se colocar a si próprio num pedestal. Mais do que relatos exteriores bem-definidos, cronologicamente bem situados e descritos num linha temporal ascendente, sentimos que o que conta verdadeiramente a sua história são os seus sonhos e reflexões. Situações que podem ter tanto de caricato como de sincero, numa tentativa de partilha de igual para igual. No que diz respeito aos seus progenitores, é também sui generis como relata o sonho que teve com o seu pai, antes da sua mãe morrer, e a forma como este, sem jeito, que lhe queria pedir conselhos matrimoniais, já que em pouco tempo iria reencontrar a sua mulher. O modo como conta que era uma criança solitária e desajeitada, os seus problemas na escola com alguns colegas e professores. Houve um, em especial, que o acusou de plagiar um trabalho quando Jung não o havia feito. A cisão com Freud e o modo como o irritava a unilateralidade sexual da sua psicanálise: “sobretudo a posição de Freud relativamente ao espírito parecia-me problemática em alto grau. Sempre que, numa pessoa ou numa obra de arte, se manifestava uma expressão de espiritualidade, ele suspeitava dela e fazia entrever uma “sexualidade recalcada”. O que não era possível interpretar directamente como sexualidade, ele designa-o como “psico-sexualidade”.
No que diz respeito à edição portuguesa da Relógio de D’Água, o que nos interessa vivamente são, também, os seus apêndices. Podemos contar com um glossário que nos pode pôr a par dos principais conceitos da Psicologia Analítica, já introduzido por Aniela Jaffé nas primeiras edições como arquétipo; amplificação, “alargamento e aprofundamento de um sonho através de associações dirigidas (vide) e com paralelismos retirados da história dos símbolos e das ideias (…) através do que o seu sentido se abre à interpretação; Anima (o feminino no homem) e animus (o masculino na mulher) e alquimia, entre muitos outros. Podemos, também, ler cartas de Freud dirigidas a Jung (importantes para contextualizarmos a sua relação) e as cartas de Jung dirigidas à mulher. Não deixa de ser interessante, igualmente, o apêndice ao “Livro Vermelho” (a obra-prima suprema mais enigmática de Jung), assim como o curioso “Septem Sermones Ad Mortuos” (Sete Alocuções aos Mortos), que era oferecido, apenas e ocasionalmente, aos amigos sem nunca ter estado disponível nas livrarias. Segundo a nota introdutória, “A obra contém alusões sugestivas ou antecipadas de ideias que, mais tarde, desempenharem um papel na obra científica de Jung, sobretudo a natureza contraditória do espírito, da vida, e da asserção psicológica.”
Já era tempo de Portugal ter em nome próprio a versão de um livro essencial de um homem ímpar. Nada mais do que o homem que nos ensinou a duvidar da unilateralidade radical e que, para vivermos saudavelmente na luz, há que aceitar o seu oposto, a escuridão. “One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious.”![]()
