De Nietzsche a Camus, Sísifo somos todos nós
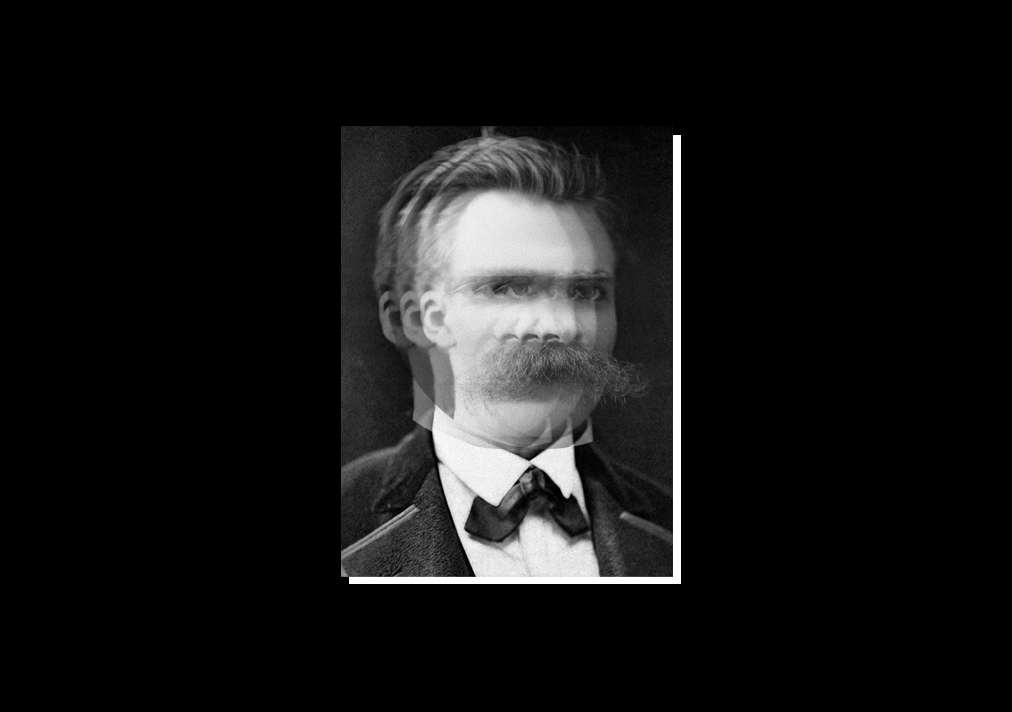
Se há equívoco no qual a sociedade contemporânea se enreda é o de que nós temos uma predisposição inabalável para a sobrevivência, um medo terrível de morte, e o que importa, acima de tudo, é o instinto de nos mantermos, aquele instinto de constância que nos faz, sempre, ir até ao fim. Para meu espanto li, recentemente, num artigo qualquer que se destacou perante os meus olhos no Facebook, creio sem me lembrar bem que do DN, que o nosso cérebro está mesmo programado para não suportarmos a ideia da nossa morte. Por um lado compreendo isso, porque se biologicamente o objectivo é nos mantermos neste mundo, então é normal e, por um lado, saudável sentir esse pavor perante Thanatos (na mitologia grega a personificação da morte). E é, sim, completamente extraordinário pensar que todos os nossos órgãos e filamentos estão, de facto, desenhados de determinada forma e estão alojados naquela região específica do nosso corpo para poderem funcionar e, consequentemente, nos darem vida. Ainda mais fascinante isto se torna se tivermos em conta que a história da evolução do nosso corpo também está ligada, de forma intrínseca, ao meio-ambiente em que vivemos. Não é extraordinário sabermos que cada espécie desenvolve os seus próprios mecanismos de defesa tendo em conta, em específico, os seus predadores? Ou que a forma como essa mesma espécie se alimenta se correlaciona com o seu espaço envolvente e isso, de facto, também influencia as suas particularidades físicas? Basta pensar no papa-formigas, por exemplo, e na razão pela qual tem um focinho tão alongado.
Essa, porém, é só uma face da moeda, e o erro está em pensarmos que essa face significa o todo. Por isso é que os life coachs existem e apostam no discurso do ama-te a ti mesmo, só tu é que importas, continua custe o que custar, tens de resistir, não vaciles, não ponhas cara feia, não podes estar triste. Olha a vida de sonho que estás a perder. Por isso é que existe aquele determinado tipo de empreendedor que foi impingido, literalmente, à minha geração e tomou de assalto as nossas universidades (tive pesadelos contigo Miguel Gonçalves) para o qual a resistência tem de ser levada ao limite. (A sério Miguel Gonçalves. Eu estava a ler Os Maias no meu quarto. Tu entraste, de rompante, e disseste “nãaaaaaaaaaaao!!!!!! O Eça é depressivo. Se leres Os Maias nunca vais arranjar emprego e vais acabar depressiva também.” Depois chamaste o Gustavo Santos e sabes o que ele fez? Obrigou-me a ler um livro dele e ofereceu-me outro…COM DEDICATÓRIA. AHHHHHHHHHH!!!!!). Por essa mesma razão é que já nem sabemos chorar quando precisamos, admitirmos perante nós próprios que algo não nos está a fazer bem e que, por vezes, o melhor é parar para decidir como ir em frente. É completamente soberba a forma como deliramos quando vemos alguém, em pleno canal aberto de televisão, gritar a outra pessoa que é uma merda e aplaudimos… sim, senhor … porque é isso que nos põe “finos” para a vida e nos faz criar resistências. Há sempre que continuar e, de preferência, conseguindo alcançar a ideia que a sociedade tem de sucesso e do que é bom. Se conseguirmos isso, então porque havemos de estar mal?
Reparem, até para justificar a existência da religião se utiliza o medo humano da morte. Torna-a mais digerível porque temos a possibilidade de uma outra boa vida no céu – pelo menos é no que os crentes acreditam. Contudo, nem com isso consigo concordar plenamente porque me parece uma justificação bastante incompleta. Não me considero católica e há uma particularidade sui generis em mim: assim que entro numa igreja sinto-me bastante estranha, trata-se de uma espécie de desconforto. Quando era pequenina e via um padre com as suas vestes chorava sempre. Nunca consegui compreender o porquê. Só sei que nas escassas vezes em que me levavam à missa ficava espantada a olhar para as imagens dos santos, enquanto tentava imaginar que histórias de vida teriam, e reparava como, geralmente, havia sempre alguém com ar mais abatido, derrotado, com uma lágrima a cair, a olhar para a cruz, a pedir-lhe encarecidamente para o livrar de um martírio qualquer que não tem fim – um martírio que se lhe apresenta como uma pedra pesada que tem de carregar todos os dias e que nunca chega ao seu poiso, tal como a de Sísifo, e que clama por alívio. Por conseguir entender isto é que sempre achei estranho justificar a religião com a ideia tenebrosa de morte, e não com o que passamos na nossa vida pelo facto de muitos sentirem que não há uma resposta ou uma mão humana capazes de lhes dar o que precisam ou pelo facto de, no festival de vaidades, veleidades e falsidades em que a sociedade vive, quase sermos obrigados a fragmentar-nos e a vestir a nossa persona como protecção. Parece contraditório, eu sei, mas mesmo no jogo bacoco de regras estritas em que a religião católica caiu, se tivermos em conta a solidão, a falta de tempo e o cumprimento de obrigações da sociedade contemporânea, pode parecer libertadora a ideia de um ser etério que tudo sabe e, por isso mesmo, nos conhece e compreende as nossas razões. Razões essas que, muitas das vezes, não conseguimos partilhar (por não sabermos como) ou nas quais ninguém repara.
Mas eis que chegamos ao ponto certo – a esse ser que nos dá tantas dores de cabeça por nos reconhecermos nele, em muitas situações, mas sem conseguirmos compreender o porquê de continuar, incessantemente, a levar a pedra até ao cimo da montanha se, depois, se depara com o absurdo de ter de fazer tudo uma e outra vez sem nunca chegar à conclusão da sua acção. Esse absurdo ser dá pelo nome de Sísifo – adoramo-lo e odiamo-lo ao mesmo tempo porque, tal como Kundera diria, corresponde ao espelho da nossa própria miséria, a tal Litost, que nem sempre nos é totalmente compreensível e cognoscível. Mas quem foi Sísifo? Astuto, conseguiu enganar Thanatos (a morte), por duas vezes, e por causa disso mesmo foi condenado, por toda a eternidade, a rolar uma pedra montanha acima e a repetir, ad eternum, este mesmo processo. Podemos associar Sísifo a diversas variantes filosóficas e artísticas – uma delas, ao eterno retorno de Nietzsche e à sua consequente noção de espaço-tempo. Pois a noção nietzschiana do eterno-retorno coloca-nos perante o mesmo problema de como suportar algo que se repete eternamente. Ou seja, vai ao encontro da pergunta fulcral: qual o sentido da vida pelo qual suportamos viver, mesmo que se repita infinitamente? Da mesma forma que Sísifo nos faz colocar a nós próprios a questão: qual a pedra que suportaríamos carregar uma e outra vez até ao cume da montanha? E em prol do quê? É então que chegamos à conclusão que, talvez, o sentido da vida não esteja correlacionado com a noção de finalidade, com o objectivo do fim, mas com a noção do durante. E é tendo em conta essa mesma noção do entremeio entre o nascimento e a morte que conseguimos entender duas coisas extremamente importantes: o ser-humano não tem de ter um sentido de resistência sem limite capaz de aplacar tudo. Em segundo lugar, a sobrevivência e a ligação a ela só se dá, se não dissociarem o ser-humano do seu gosto pelo durante, tenha ele as pedras que tiver, coloque o ser.humano numa posição superior ou inferior — caso o caro leitor ache que essa distinção existe mesmo. Isso é consigo.
No seu ensaio “O Mito de Sísifo”, Albert Camus começa mesmo por dizer que a única questão filosófica que interessa verdadeiramente é a do sentido da vida, tudo o resto é fútil. A razão pela qual faz esta asserção é porque é, somente, ela que está relacionada com a manutenção da nossa vida ou não. Quais as razões que fazem o ser-humano viver? Quais as razões que fazem o ser humano abdicar da vida? “Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. O resto, se o mundo tem três dimensões, se o espírito tem nove ou doze categorias, aparece em seguida. São jogos.” Por isso mesmo é que dá o exemplo de Galileu pelo facto de ter renegado a sua verdade científica quando esta lhe pôs a vida em perigo. Perante a questão da vida e da morte, a questão do heliocentrismo ou do geocentrismo parece, assim, irrelevante. Será que alguém tem mesmo a coragem de pôr termo à sua vida por uma mera questão intelectual ou de conhecimento, seja essa questão científica ou de qualquer outra área? Pondo a pergunta em outros moldes, valerá a pena levar tão a peito uma discussão em que tento explicar que Os Maias não representam o realismo, enquanto a outra pessoa jura a pés juntos que sim? Não, não vale. Até porque teria mais em que ocupar o meu tempo e a minha luta é, mesmo. salvaguardar as minhas horas para algo em que eu me reveja, honestamente. Mas Camus também diz isto, “Vejo outras [pessoas] que paradoxalmente se fazem matar pelas ideias ou as ilusões que lhes proporcionam uma razão de viver (o que se chama uma razão de viver é, ao mesmo tempo, uma excelente razão para morrer)”. O que está em parênteses é que cativou a minha atenção. Reparem, “o que se chama uma razão de viver é, ao mesmo tempo, uma excelente razão para morrer”. E só isto explica que a nossa tal predisposição inabalável para a sobrevivência não é verdadeira, o medo da morte não absorve tudo e que Eros (a nossa pulsão de vida) e Thanatos (a noite) andam lado a lado, numa forma de auto-regulação mútua. Num ensaio brilhante em que Camus disserta sobre o suicídio relacionando a sensível temática a Sísifo, o filósofo explora o absurdo do acto e essa tal atracção pelo nada que parece melhor do que a própria vida. Por este prisma, se não deixarmos escapar a tal frase – o que se chama uma razão de viver é, ao mesmo tempo, uma excelente razão para morrer – reparamos que a vida assume um papel superior ao simples respirar. A morte, para alguns, pode mesmo significar, por isso mesmo, a sua maior afirmação de vida. Como Camus explica, pode ser o reconhecimento de que fomos ultrapassados pela ela, mas se há esse reconhecimento, é porque há a compreensão de que não nos reconhecemos no nosso meio envolvente. À primeira impressão, todas as ideias aqui expressas podem parecer derrotistas, mas não o são. A nossa própria manutenção requer o reconhecimento tanto da vida como do seu oposto e, no fundo, ninguém consegue rolar uma pedra, infinitamente, por um equívoco ou mentira, mesmo que a finalidade se revele, a priori, boa. Thanatos pode servir para isso mesmo, um aviso das mentiras que dizemos a nós próprios para nos fazer procurar, contraditoriamente num impulso de vida, algo com que nos identifiquemos. Só o reconhecimento disso mesmo, essa constatação para nós próprios, é que nos livra de uma espiral recessiva que nos pode, mesmo, levar a crer que não há saída e tomar uma atitude desesperada como a do suicídio. O pior que se pode fazer a uma pessoa que está a passar por alguma situação difícil é, por isso mesmo, impedi-la de uma qualquer expressão de tristeza, fazê-la engolir as lágrimas e mandá-la continuar como se nada fosse. O que estamos a fazer é eliminar qualquer possibilidade dessa pessoa descobrir o que está a minar e poder continuar em frente, numa outra direcção melhor para si.
O empreendedorismo tóxico que se tentou inculcar após a crise de 2008 acabou por, infelizmente, agravar toda esta situação. A divisão social que se estabeleceu a partir daí, entre vencedores e falhados, não só foi desastrosa e perniciosa como tentou vender a ideia de que aguentar e dar tudo por tudo era sinal de resistência. Isto porque, lá está, faziam-nos crer que essa resiliência era ilimitada e duraria, para sempre, em prol do ideal que a sociedade tem de sucesso. O resultado é uma geração Millenniall cansada, deprimida, que se sente sozinha e incompreendida perante um mundo em constante mudança, tanto social como laboral. Não sou só eu que o digo, há já vários artigos e estudos que indicam que os casos de depressão e burnout aumentam nas gerações mais novas. É só pesquisar. Quando se fala, institucionalmente, na minha geração, geralmente diz-se que, por natureza, não gostamos de estar muito tempo num determinado sítio laboral, somos instáveis e não fiéis às empresas. Há, no entanto, outra coisa que é esquecida. Se nós somos assim, é porque as próprias empresas apostaram na rotatividade dos seus trabalhadores e, nas universidades, já fomos preparados para esquecermos a ideia de um emprego para a vida toda.
O facto de se reconhecer que a resistência não é infinita não é uma desistência, é, antes, uma auto-regulação nossa indicadora de que, talvez, o nosso caminho tenha de ser outro. A constatação de que, em qualquer situação, talvez estivéssemos apaixonados pela ideia de algo e não por esse algo em si. Ou seja, talvez estivéssemos enamorados pelo final da montanha e não pela pedra do durante. Sísifo tem amar a sua pedra assim como nós a nossa. Se a nossa noção de tempo se amplifica e se a pedra tornar as nossas horas penosas de forma excessiva, então há que reconhecer isso e amar outra pedra. Devemos encarar isso não como uma fatalidade mas como uma constatação, uma tomada de posição nossa. No fundo, é esta a escapatório do absurdo de Sísifo e do eterno-retorno de Nietzsche. Estamos a falar de amor-fati — se eu amo mesmo a pedra, então consigo suportar as suas consequências ad eternum. Era isso mesmo que A Insustentável leveza do Ser tratava e Kundera tentava explicar com as dicotomias força / fraqueza e peso/leveza, representadas por Tomás e Teresa.
A libertação do absurdo, tal como Camus relembra, dá-se com a constatação de que Sísifo pode sentir-se feliz se a pedra for a escolhida por ele e representar a sua própria auto-determinação. Então, amará também o seu peso e o seu próprio tempo. É desta forma magistral que termina o seu Mito de Sísifo: “Toda a alegria silenciosa de Sísifo está aí. Seu destino lhe pertence. Seu rochedo é sua questão. Da mesma forma o homem absurdo, quando contempla o seu tormento, faz calar todos os ídolos. No universo subitamente restituído ao seu silêncio, elevam-se as mil pequenas vozes maravilhadas da terra. Apelos inconscientes e secretos, convites de todos os rostos, são o reverso necessário e o preço da vitória. Não existe sol sem sombra, e é preciso conhecer a noite. O homem absurdo diz sim e seu esforço não acaba mais. Se há um destino pessoal, não há nenhuma destinação superior ou, pelo menos, só existe uma, que ele julga fatal e desprezível. No mais, ele se tem como senhor de seus dias. Nesse instante sutil em que o homem se volta sobre sua vida, Sísifo, vindo de novo para seu rochedo, contempla essa sequência de atos sem nexo que se torna seu destino, criado por ele, unificado sob o olhar de sua memória e em breve selado por sua morte. Assim, convencido da origem toda humana de tudo o que é humano, cego que quer ver e que sabe que a noite não tem fim, ele está sempre caminhando. O rochedo continua a rolar. Deixo Sísifo no sopé da montanha! Sempre se reencontra seu fardo. Mas Sísifo ensina a fidelidade superior que nega os deuses e levanta os rochedos. Ele também acha que tudo está bem. Esse universo doravante sem senhor não lhe parece nem estéril nem fútil. Cada um dos grãos dessa pedra, cada clarão mineral dessa montanha cheia de noite, só para ele forma um mundo. A própria luta em direção aos cimos é suficiente para preencher um coração humano. É preciso imaginar Sísifo feliz.”
