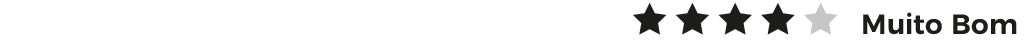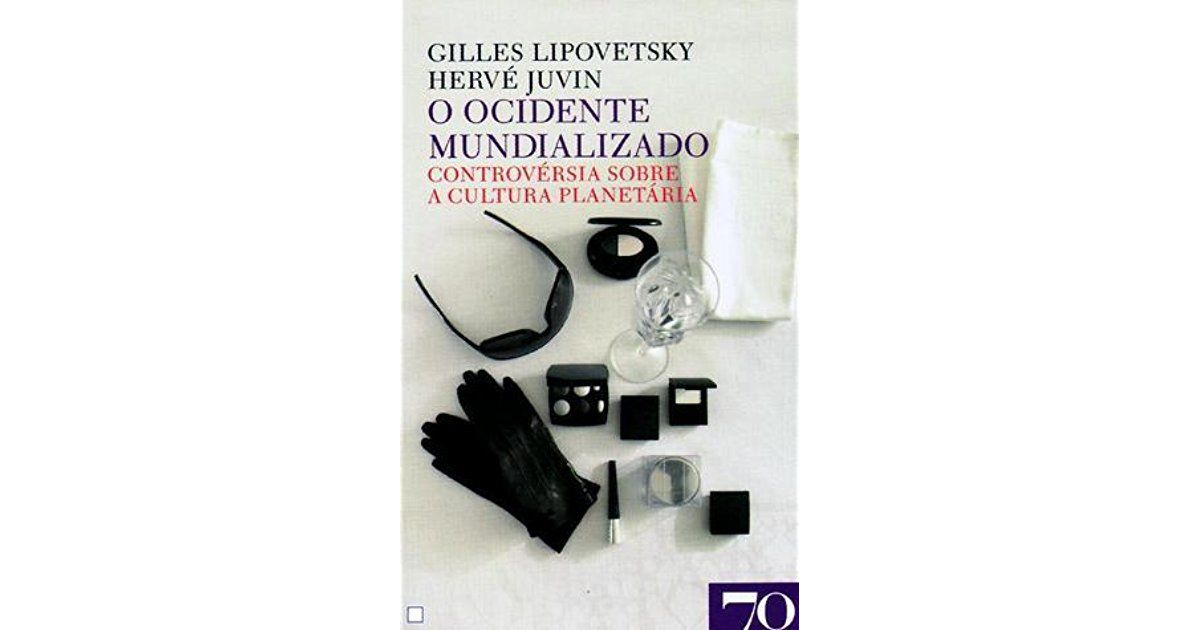‘O Ocidente Mundializado’ e despersonalizado nos olhares de Lipovetsky e de Juvin
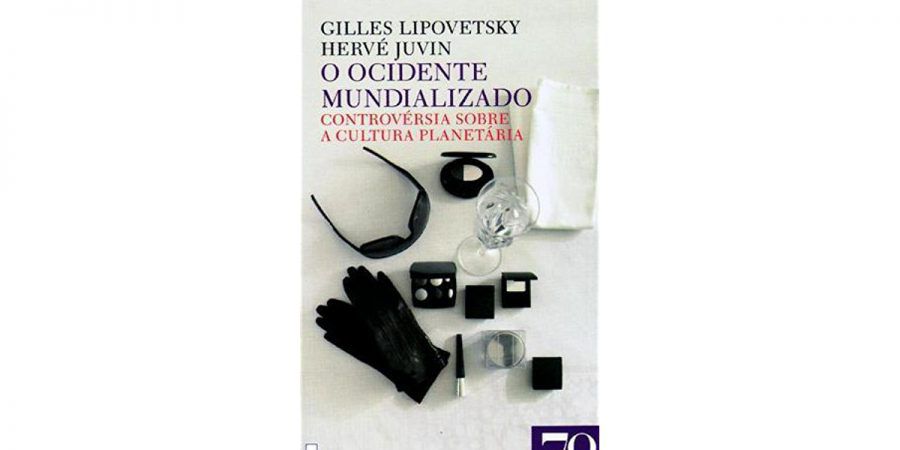
Outras alturas seriam indicadas igualmente para fazer a racionalização da cultura. Um ano como 2017 não deixa de ser exceção. E a exceção não confirma a regra precisamente quando o “quadro mais caro de sempre” foi então vendido no corrente ano que agora finda.
“A contradição de palavras é flagrante. Cultura e mundialização opõem-se, como gratuitidade e comércio, como artista e comerciante, como dádiva e mercado. Cultura é o nome do particular, do singular, do único; cultura-mundo convoca o uniforme, o híbrido, a confusão e assemelha-se à fraude pela qual o comerciante se propõe a traficar a cultura como escravos, mulheres, órgãos humanos ou crianças para adopção.”
Hervé Juvin
Este início pungente que me coadjuva a iniciar esta análise é a conclusão de um dos dois autores deste debate escrito. O outro é Gilles Lipovetsky, que abre o livro. A Edições 70 presenteia-nos com duas das, quiçá, mais importantes obras sobre a cultura pensadas em solo ocidental, e críticas dele – “O Reino da Hipercultura: Cosmopolitismo e Civilização Ocidental”, de Lipovetsky e “Cultura e Mundialização”, de Juvin. O resultado é um livro que em conjunto forma o título “O Ocidente Mundializado – Controvérsia sobre a Cultura Planetária” que, como o nome invoca, vale a pena captar a nossa atenção.
Claro que sim, o prefaciador do livro Pierre-Henri Tavoillot, filósofo francês da Sorbonne, trata de nos recordar “O Fim da História” (Fukuyama) e o “Choque das Civilizações” (Huntington), dando o mote para podermos fazer a viagem crítica que os autores nos propõem. E deixa o aviso, que se consubstancia no debate no final do livro, do otimismo de Lipovetsky e do pessimismo quase dantesco de Juvin. Este mundo apresentado no livro é o mundo de Zygmunt Bauman, “inundado por informação e faminto de sabedoria.”
Gilles Lipovetsky – “O Reino da Hipercultura: Cosmopolitismo e Civilização Ocidental”
Pelo menos para o público português, Gilles Lipovetsky não deveria de ser um nome desconhecido. As suas obras “A Era do Vazio” e “O Império do Efémero” estão traduzidas, e mostram-se como dois “obstáculos” às ideias predominantes, servindo de aquedutos, que desaguam neste livro. O filósofo francês é um teórico da hipermodernidade e da pós-modernidade.
“Cultura-Mundo”, o chavão que está sempre presente nos dois textos, é um conceito que foi inventado por Jean Serroy e que nos apresenta o mundo atual que vivemos reflexo da revolução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s), das Corporações Multinacionais (CMN’s) e do aumento das indústrias culturais. Esta é a era do capitalismo cultural, quando as indústrias da cultura e da comunicação se impõem como instrumentos de crescimento e motores da economia. Quando a economia se torna cultura e quando o cultural penetra no comércio, chega o momento da Cultura-Mundo.
Até ao presente dia, ou só até há duas décadas, na minha opinião, a cultura ordenava claramente as existências, o que dava sentido à vida, enquadrando-a num todo conjunto de divindades, de regras e valores, de sistemas simbólicos. Encontra-se ao contrário desta lógica imemorial em que funciona a Cultura-Mundo, a qual não cessa de desorganizar o nosso ser-no-mundo, as consciências e as existências, Lipovetsky conta-nos. Este mundo deixou de ser (se é que alguma vez foi) “universal humanista” e carrega, abstratamente, um ideal moral e político (O Iluminismo e a emancipação do género humano; ao qual Kant chamou de Wahlsprunch, um instrumento heráldico, que outrora foi a máxima Sapere aude). Já não se trata do internacionalismo inclusivo, mas de um universalismo concreto e social, complexo e multidimensional, feito de realidades estruturais que se cruzam e se contrariam.
No século XIX, em qualquer família, a presença em concertos de 2ª ou mesmo baixa qualidade, era uma forma normal de convivência, George Steiner referiu já várias vezes (vejam o vídeo “George Steiner on Myths and Music”). Nas elites, claro, havia variados instrumentos musicais dominados e tempo dedicado à pintura. Hoje em dia, a arte não agrada já às elites, nem a cultura (duas Ideias que de mãos dadas sempre andam). A lista que Hervé Juvin (um pequeno salto ao livro seguinte) nos apresenta como atuais hobbies incluem música, pintura, cinema, literatura, filosofia, teologia, que vivem ou sobrevivem como passatempos, e estão sujeitos a tornarem-se indústria do divertimento se se quiserem expandir – reduzidos à sua utilidade. Por isto mesmo, as novas (ou direi inovadoras e empreendedoras?) Business Schools ocuparam o lugar par excellence das atividades pivotais da sociedade, das que estudam a nossa dimensão “fantasmática”, como Eduardo Lourenço descreve a literatura e a música.
A vantagem de ler livros que têm em sua posse contéudos relevantes apresenta-se, também, encantador, pelo facto de quase sempre serem escritos por autores brilhantemente eloquentes, como Lipovetsky, quando este descreve qual deveria ser a real função da escola: “A missão superior da escola e da cultura é a de dar ferramentas que permitam aos homens superar-se, de ser ‘mais’, de cultivar as suas grandes e ativas paixões, o seu imaginário criativo seja qual for a esfera de ação e de criação.” Quer pela “Civilização do Espectáculo” em que vivemos, como, neste caso, Vargas Llosa a definiu, quer pelo nosso sistema educional, não existem nenhumas antíteses que permitam os cidadã(o)/s serem opositores desta desconstrução vil da cultura. Qual a saída?
O filósofo deixa uma sugestão maquiavélica, que não é seu hábito dado o seu pendor mais analítico: ninguém pode escapar. De um “cosmopolitismo livre e voluntário”, passámos a um “cosmopolitismo inelutável”, de olhos postos na sobrevivência económica. Esta não é já a era da do cosmopolitismo partilhado com o consentimento humano, esta é uma “mundialização sob constrangimento”.
O nosso triunfo? O triunfo que pode ser celebrado entre os congéneres humanos é o de viveram numa “aldeia global”, como Marshall McLuhan a cunhou. Este é o triunfo da sociedade da imagem e o impulso do Homo Ecranis inaugurado com o cinema. Não culpemos os irmãos Lumière.
“Nada está jogado: a história tem razões que a razão desconhece.”
Hervé Juvin – “Cultura e Mundialização”
Este autor é um ensaísta e economista francês, e presidente do Eurogroup Institute, criado e dirigido pelo mesmo desde 2014. Escreve também sobre geopolítica e escreve artigos periodicamente para o Le Monde. Hervé Juvin não se mostra incólume, e surge mais complexo e profundo na sua exposição. Começa o seu livro de uma forma bruxuleante, com uma descrição perfeita do que é cultura:
“Cultura. O meio de relação consigo, com os outros e com o mundo. Meio de se dizer ou de fugir. Meio de ser aqui e agora, ao mesmo tempo origem e projeto, palácio de vidro e estaleiro sem fim.”
A questão vai diretamente para qual o uso que a mundialização quer fazer com essa vértebra da coluna humana – a cultura. O francês exorta que a cultura é o que a mundialização quer ser, como o seu meio mais essencial. Será apenas mais um “braço armado” na desestruturação do Mundo como o conhecíamos. Esta crise instaurada é da relação com o real, do julgamento e da inteligibilidade do mundo.
O mais pertinente será apenas tentar contabilizar as perguntas que faz e apresenta no livro, bem como as respostas que dá para justificar o seu credo. Por exemplo, a Cultura-Mundo é o nome de quê? De um Singular Plural: há um facto social global, cuja iniciativa é ocidental, que se chama mundialização, que constiitui, ela própria, uma cultura, ou que o pretende, e que tende a impor a todas as outras, em nome do “bem”; de uma Fábrica do Mesmo, marcada pela ingenuidade de promessas desde os anos 70 mas muito mais exuberantes depois da queda do Muro. As coisas comuns trazem em si a felicidade do uniforme.
A cultura era a cultura das origens, era herança e vinculava, ao tempo, os mesmos e os que ela definia como tais; hoje em dia, a padronização ditada pelos maiores grupos comerciais do Mundo é adotada mais permeavelmente do que os Direitos Humanos (polémica discutida primordialmente por Lipovetsky, voltando um livro atrás); o Fim Liberal, que nos é apresentado como veículo de unidade. Ao mesmo tempo, hoje falamos mais de diferenças, de rupturas, de excluídos, quanto mais vemos avançar o espectro da unidade. Quem é que ainda acredita que viajar o expõe à diferença? Na conversa entre Steiner e Lobo Antunes, o primeiro confessa que perdeu a esperança no turismo como forma de educação, porque nota-se que não resultou, e nenhuma compaixão floresce do mesmo. A cultura tende, portanto, a realizar-se nos “objectos, nos momentos, nos actos indentificáveis”, mascarados de falsa e venenosa liberdade.
McLuhan outra vez inspira o(s) autor(es) quando diz que “o meio é a mensagem”, e é essa mensagem que nos é passada pelos “masters of mankind” (Adam Smith), ainda que, de forma indireta, hoje em dia, também pretendem exercer a sua influência sobre a cultura. Um caminho começado lá muito atrás, e que remonta talvez aos primeiros anos do século XX. O século que começou com a criação, pela primeira vez, das “Relações-Públicas”, termo preconizado e criado pelo sobrinho de Freud, Edward Bernays, que vivia em Nova Iorque. Através do controlo dos rebanhos da massa (chamada “bewildered herd” por Walter Lippmann), influenciando o seu subconsciente – inspiração Ffeudiana – poderia-se chegar à “Fabricação de Consentimentos”, artigo e livro escritos por Bernays, em 1947 e 1955, respetivamente – “Engineering of Consent”. Já podemos perdoar os irmãos Lumière. Os “Roaring Twenties” foram o resultado, e também a fabulosa especulação que originou o maior crash da Bolsa de Stocks de Nova Iorque.
A Financeirização da Arte
Não é um fenómeno novo, apenas não estava presente neste campo. É mais famoso em aquisição de imóveis (mortgages), carros, ou mesmo créditos pessoais. Esta é a fórmula mais simples pela qual a financeirização do sistema capital mundial tem assumido. Desde 1970 que a Economia Mundial produz mais, mas os salários estão estagnados desde a mesma altura, e o verdadeiro output mundial é menor – um contrassenso, certo? Como Costas Lapavitsas, ou até mesmo o Nobel Joseph Stiglitz lhe chamam – “profiting without producing” – a finança alimenta a finança, diversificando os investimentos por área e não se focando em indústrias que produzam algo real. E como a desregulação do sistema proposto pelo Washington Consensus de Reagan, Thatcher e Delors implica apenas menos regulação para uns, sofisticadas formas de investimentos e novos mercados colocaram-se à espreita. O da arte não escapou.
A um sistema “artesanal” e nacional, substitui-se por um mercado global centrado num duopólio de sociedades de vendas às casas leiloeiras – Sotheby’s e Christie’s. O mercado mundial de arte passou de 27.7 mil milhões em 2002 para 43,3 mil milhões em 2006. Há poucas semanas, um quadro foi comprado por 400 milhões de dólares. Como não me atrevo muito pela matemática, ou não li nenhum artigo que ilustrasse o que se poderia comprar pelo mesmo valor, apenas sei, e acredito que acreditem no mesmo, dava para utilizar a mesma quantia em algo distinto.
Já não se procura a glória ou o príncipe que se estabeleceu como o maior mecenas, embora na época as estruturas fossem super desiguais e injustas. Mas hoje a glória imortal foi trocada pelo reconhecimento imediato, que busca a celebrização mediática e do sucesso comercial. A ambição revolucionária que a arte, em tempos, vestiu deu lugar as estratégias de promoção, utilização dos métodos de marketing – um fenómeno com cerca de 50 anos, onde se sustenta a maior parte de obtenção de lucros das empresas coevamente. É o mercado, agora, que faz o artista – Damien Hirst é dado pelo livro como exemplo, quando é chamado de “artista vivo mais caro do mundo” por quem regula o mercado.
O Louvre co-produziu já três filmes de ficção. Em 2008, o Museu Picasso alugou 195 obras do mestre, apresentadas no centro do Emirates Palace de Abu Dhabi – tendo rendido 15M€. O exemplo do Louvre em Abu Dhabi – que custou 1 bilião de dólares, o quasi-world money. Os números são um dos resultados da Hiper-Cultura que registamos (Lipovetsky).
É sob esta mística que a hiperglobalização se veste – a tecnicização planetária do mundo, que funciona, supostamente, como garante do triunfo final das democracias liberais. Porém, esta apenas é uma estratégia do Ocidente de obter uma vitória à custa da racionalidade tecnocientífica, do cálculo económico e dos direitos individuais. O resto do mundo, sem surpresa, apresenta-se, uma vez mais, menos “moderno”, e até importa coleções de obras sobre ou até mesmo produzidas no seu país, como, por exemplo, as suas matérias-primas ou financiamento necessitam, também, de importação. Neste campo, remeto-me, reservadamente, para a Ásia, ou até mesmo para a América Latina, de onde surgem manifestações artísticas de relevo e de maior valor (e não custo, que é definido pelo mercado) do que as produções ocidentais – onde também os mais poderosos (para não dizer ricos) russos e chineses são já grandes “colecionadores” (será que têm apreço pelas obras?), amealhando imensas peças fora dos olhos dos olhos “civilizados” deste lado do Mundo.
Utilizada pela Cultura-Mundo como instrumento de “desterritorialização e de individualização dos seres e dos estilos de vida”, a dinâmica da mundialização escapa, em grande parte, do domínio voluntário dos homens, sendo que a cultura educativa continua a ser o domínio do qual a nossa decisão é considerável. A educação por aqui se apresenta como uma das alternativas a esta descoloração pensada e aplicada por todo o Mundo, com os olhos postos no domínio total do que mais querido nos é – a cultura.
Podemos ser deixados a outras (mínimas) alternativas, cujos vaticínios e debate com outros a(u)tores no livro dão lugar ao “Culto do Vazio”. Ou então podemos aprender a viver a experiência da Vida com V grande de novo por nós mesmos, onde ainda for possível.
“A experiência vivida torna-se determinante. Assim, o teatro e a orquestra determinam a arte. Talvez a experiência vivida seja o elemento no seio da qual a arte está a morrer.”
Martin Heidegger